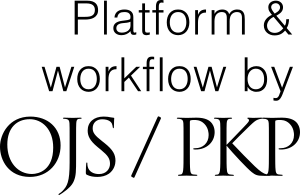Análise sobre a produção acadêmica do tema de redes no Brasil
DOI:
https://doi.org/10.18256/2237-7956/raimed.v7n1p250-269Palavras-chave:
Redes, Teorias, Metodologias, Revisão críticaResumo
O objetivo do artigo é organizar as tendências da produção brasileira sobre redes e comparar com estudos anteriores. A partir de um conjunto de sinais que inclui a presença de artigos em jornais qualificados e o surgimento de trilhas específicas de discussão sobre redes nos congressos, criou-se a proposição orientadora, afirmando-se que após duas décadas de investigação mais intensa, a pesquisa sobre redes no Brasil está construindo seu caminho de dominância conceitual e metodológica, tal como ocorre em outros centros de excelência no mundo. Para realizar a tarefa foram analisados artigos de revistas classificadas como A2 no sistema WEbQualis, no período de 2006 a 2016, com a palavra chave rede (s) e network (s). Foram encontrados 95 artigos. A análise temática dos conteúdos, considerando a teoria utilizada, a metodologia da pesquisa, as formas de coleta e as formas de análises não sustentou a afirmativa. A produção brasileira sobre redes continua utilizando um extenso leque de conceitos e metodologias que indicam um desenvolvimento inicial do conhecimento, com descrições de casos, entrevistas e análise documental. Considerando as características especificas de redes em regiões do Brasil, como no Sul, com os pequenos agricultores, como no Nordeste, com os programas solidários e no Sudeste, com as centenas de redes informais com as mais variadas tarefas, entende-se existirem as condições de evidências e de modelos explicativos de apoio para o desenvolvimento de uma marca da produção brasileira, reconhecida e difundida no meio acadêmico internacional. Um dos caminhos sugeridos para mudar essa posição é que a produção que apresente avanços teóricos seja dirigida essencialmente para jornais internacionais, que valorizam a inovação em teoria.
Downloads
Referências
Alamri, A. (2011). Theory and methodology on the global optimal solution to a General Reverse Logistics Inventory Model for deteriorating items and time-varying rates. Computers & Industrial Engineering, 60(2), 236–247.
Alves, J., & Pereira, B. (2013). Análise das Publicações Nacionais sobre Estudos em Relacionamentos Interorganizacionais: 2004-2009. Revista de Administração e Inovação, 10(2), 169-198.
Alves, J. (2016). O Processo de desenvolvimento e mudança de redes interorganizacionais. Tese (Doutorado). Universidade Federal de Santa Maria.
Andrigui, F., Hoffmann, E., & Andrade, M. (2011). Análise da produção científica no campo de estudos das redes em periódicos nacionais e internacionais. Revista de Administração e Inovação, 8(2), 29-55.
Balestrin, A., & Verschoore, J. (2008). Relações interorganizacionais e complementaridade de conhecimentos: proposição de um esquema conceitual. Revista de Administração Mackenzie, 8(4), 53-177.
Balestrin, A., Verschoore, J., & Reys, E. (2010). O campo de estudo sobre redes de cooperação interorganizacional no Brasil. Revista de Administração Contemporânea: RAC, 14(3), 458-477.
Barcelos, E., Eleutério, R. & Giglio, E. (2015). Análise crítica da contribuição de teses brasileiras sobre o tema de redes. Revista Enangrad, 6(1), 41-69.
Börzel, T. (1998). Organizing Babylon: On the Different Conceptions of Policy Networks. Public Administration, 76(2), 253-273.
Burt, R. (1982). Toward a structural theory of action. New York: Elsevier.
Castells, M. (1999). A sociedade em rede. São Paulo: Paz e Terra.
Cunha, J., Passador, J., & Passador, C. (2011). Recomendações e apontamentos para categorizações em pesquisas sobre redes interorganizacionais. Cadernos EBAPE.BR, 9(especial), 505-529.
Dimaggio, P., & Powell, W. (1991). The New Institutionalism in Organizational Analysis. Chicago: The University of Chicago Press.
Ebers, M., & Jarillo, C. (1997-1998). The construction, forms and consequents of industry network. Internacional Studies of Management & Organizations, 27(4), 3-21.
Gereffi, G., & Lee, J. (2012). Why the World Suddenly Cares About Global Supply Chains. Journal of Supply Chain Management, 48, 24–32.
Giglio, E., Pugliese, R., & Silva, R. (2012). Análise dos conceitos de poder nos artigos brasileiros sobre redes. Revista de Administração da UNIMEP, 10(3), 51-69.
Giglio, E., & Hernandes, J. (2012). Discussões sobre a Metodologia de Pesquisa sobre Redes de Negócios Presentes numa Amostra de Produção Científica Brasileira e Proposta de um Modelo Orientador. Revista Brasileira de Gestão e Negócios, 14(42), 78-101.
Grandori, A., & Soda, G. (2006). A relational approach toorganization design. Industry and Innovation, 13(2), 151-172.
Grandori, A., & Soda, G. (1995). Inter-firm Networks: Antecedents, Mechanisms and Forms. Organizations Studies, 16(2), 183-214.
Granovetter, M. (1985). Economic Action and the Problem of Embeddedness. American Journal of Sociology, 91, 481–510.
Gulati, R. (1998). Alliances and Networks. Strategic Management Journal, 19, 293-317.
Habermas, J. (1975) Conhecimento e interesse. São Paulo: Abril Cultural.
Halinen, A., Tornroos, A., & Sridhar, M. (2005). Using case methods in the study of contemporary business networks. Journal of Business Research, 58(9), 1285-1297.
Hénaff, M. (2010). Maussetl'invention de la réciprocité. Revuedu MAUSS, 36(2), 71-86, 2010.
Hoffmann, V., Molina-Morales, F., & Martinez-Fernandez, M. (2007). Redes de empresas: proposta de uma tipologia para classificação aplicada na indústria de cerâmica de revestimento. Revista de Administração Contemporânea, 11, 103-127.
Holland, J. (1995). Hiddenorder: Howadaptation builds complexity. Santa Fé: Helix.
Kuhn, T. (1975). A Estrutura das Revoluções Científicas, São Paulo: Perspectiva.
Laumann, E., & Pappi, F. (1976). Networks of Collective Action. Elsevier.
Lee, K., & Kamradt-Scott, A. (2014). The multiple meanings of global health governance: a call for conceptual clarity. Journal of Globalization and Health, 28, 1-10.
Miles, R., & Snow, C. (1986). Network organizations: new concepts for new forms. California Management Review, 28(3), 62-73.
Moreno, J. (1984). O Teatro da Espontaneidade. São Paulo: Summus.
Morin, E. (2004). Epistemology of complexity. Gazeta de Antropologia, 20, 1–14.
Nohria, N., & Eccles, R. (1992). Networks and organizations: Structure, form, and action. Boston: Harvard Business School Press.
Oliver, A., & Ebers, M. (1998). Networking network studies: an analysis of conceptual configurations in the study of inter-organizational relationships. Organization Studies, 19(4), 549-583.
Parente, A. (2004). Tramas da rede: novas dimensões filosóficas, estéticas e políticas da comunicação. Porto Alegre: Sulina. Pascucci, L., & Meyer, V. (2013). Strategy in complex and pluralistic contexts. Revista de Administração Contemporânea - RAC, 17(5), 536-555.
Todeva, E. (2006). Business networks: strategy and structure. New York: Taylor & Francis.
Uzzi, B. (1997). Social structure and competition in interfirm networks: The paradox of embeddedness. Administrative Science Quarterly, 42(1), 35-67.
Uzzi, B., & Spiro, J. (2005). Collaboration and creativity: the small world problem. American Journal of Sociology, 111(2), 447-504.
Vizeu, F. (2003). Pesquisas sobre redes interorganizacionais: uma proposta de distinção paradigmática. XVII Encontro EnAnpad, ANPAD, Atibaia- São Paulo.
Wegner, D., et al. (2011). Capital Social e a Construção da Confiança em Redes de Cooperação: Mudando Padrões de Relacionamentos na Pecuária de Corte. Revista de Administração IMED, 1(1), 72-96.
Williamson, O. (1979). Transaction-cost economics: the governance of contractual relations. Journal of Law and Economics, 22(2), 233-261.
Arquivos adicionais
Publicado
Edição
Seção
Licença
Declaro que o presente artigo é original, não tendo sido submetido à publicação em qualquer outro periódico nacional ou internacional, quer seja em parte ou em sua totalidade. Declaro, ainda, que uma vez publicado na Revista de Administração IMED - RAIMED, editada pela Faculdade Meridional - IMED, o mesmo jamais será submetido por mim ou por qualquer um dos demais co-autores a qualquer outro periódico. Através deste instrumento, em meu nome e em nome dos demais co-autores, porventura existentes, cedo os direitos autorais do referido artigo à Faculdade Meridional - IMED e declaro estar ciente de que a não observância deste compromisso submeterá o infrator a sanções e penas previstas na Lei de Proteção de Direitos Autorias (Nº9609, de 19/02/98).
Os artigos publicados pela RAIMED estão disponíveis sobre a licença CC-BY, permitindo o livre compartilhamento, desde que seja referenciada e reconhecida a autoria do trabalho e sua publicação neste periódico. Conforme:
Creative Commons Atribuição 4.0 Internacional.